O economista, investigador e professor da Universidade Nova de Lisboa, que estuda as contas da saúde há mais de duas décadas, via com bons olhos uma espécie de “troika interna” para combater ineficiências na gestão hospitalar e critica quem quer acabar com as parcerias público-privadas (PPP) “por questões ideológicas”. Lamenta por isso que se esteja a fazer o debate errado na Lei de Bases da Saúde. Quanto à contestação social no setor, defende que é fruto da “falta de planeamento” no pós-programa de assistência internacional.
Os maiores grupos privados, CUF, Luz e Lusíadas, suspenderam o acordo com a ADSE, subsistema para o qual descontam 1,2 milhões de funcionários públicos e pensionistas do Estado. No centro da discórdia está o mecanismo de regularizações retroativas através do qual, em dezembro, os privados fora chamados a devolver 38 milhões à ADSE por atos médicos de 2015 e 2016, que o Estado diz terem sido cobrados a preços acima da média. Como é que tem visto esta guerra?
Já era claro que a ADSE tinha de se tornar um comprador mais agressivo dos serviços que oferecia. Havia uma perceção de que nem sempre os preços que estava a pagar, a qualidade do que pagava e a quem pagava eram adequados – e esta regularização insere-se nessa lógica de melhorar este subsistema. Mas esta regra cria demasiada incerteza para quem está a prestar o serviço. Compreende-se que a ADSE possa querer fazer essa avaliação para trás, perceber onde teve de pagar mais e decidir não pagar tanto. A questão é: como é que isto vai funcionar para o futuro. Se cada operador privado estabelece um preço mas se esse preço pode ser ajustado em função do que os que outros praticam, gera-se uma grande incerteza contratual que não é de fácil resolução. E o setor privado sentiu isso.
O problema é a retroatividade, combinada com as tabelas desatualizadas, dizem os privados.
As tabelas são um problema em si, mas mesmo que estivessem atualizadas o problema persistia, porque com este mecanismo nada impede que um operador privado, porque quer ganhar volume, faça um preço demasiado baixo num ano, o que obrigará os outros a ter de devolver dinheiro à ADSE. Isso tem de se resolver. Ter-se chegado a este impasse, a esta situação de tensão, é mais incómodo, mas é sempre razoável que as partes privadas – e estou aqui a considerar a ADSE como parte privada, uma vez que é totalmente financiada pelos seus beneficiários – tenham de negociar os preços dos serviços. E estas situações de denúncia de convenções estão a ser usadas para que isso aconteça.
Vídeo: ADSE. Ministério da Saúde fez bem em não se envolver
O Conselho Geral e de Supervisão da ADSE, que junta representantes de beneficiários, governo, sindicatos e aposentados, pediu “diálogo urgente”. Ainda pode haver diálogo?
Vai ter de acontecer, porque o volume de atividade gerado por estes beneficiários não é irrelevante para os privados, portanto isso interessa a ambas as partes. O que para mim é estranho é que o CGS, que faz parte da ADSE, faça este apelo em praça pública, quando ele devia ser parte do processo de negociação. Parece-me, porém, bem tomada a decisão do Ministério da Saúde de não se meter no assunto – afinal, criou-se um instituto público de gestão partilhada precisamente para estar fora da esfera do Estado no sentido da decisão. Porque a ADSE não faz parte do Serviço Nacional de Saúde (SNS), é um subsistema, um sistema paralelo dos funcionários públicos.
Mas como é que se pode resolver este diferendo? O que é que seria uma solução razoável?
Terão de ser estabelecidos contratos ou convenções sem esta cláusula de ajuste retroativo e, espero eu, que tenham mecanismos de atualização de preços de parte a parte que sejam mutuamente vantajosos, tendo consciência de que nem a ADSE tem obrigação de contratar com privados – todos ou parte deles – nem os privados a têm de oferecer serviços à ADSE. Tem de haver livre escolha de ambos os lados e por isso terão de encontrar um meio caminho. Até é possível que faça sentido que uns prestadores tenham um preço e outros outro preço, para os seus respetivos serviços, tendo em conta questões de qualidade e de condições do serviço fornecido.
Continua a fazer sentido existir ADSE? Os beneficiários descontam uma percentagem do salário, o que muitas vezes resulta num valor mais alto do que pagariam por um seguro…
Essa é uma tensão que vai começar a existir cada vez mais do lado dos beneficiários, sobretudo os de elevado rendimento – essa percentagem pode ser substituída por um seguro privado – e se a ADSE começar a rever o tipo de coberturas que tem. E é algo que, para seu equilíbrio financeiro, talvez tenha mesmo de fazer… Agora, se faz sentido ADSE num SNS como o nosso? Bem, se defendermos o SNS como trave-mestra, ter mecanismos adicionais como a ADSE não faz muito sentido. A razão porque temos este subsistema é em parte histórica – acontece que a ADSE foi criada muito antes do SNS, portanto quando este surgiu havia alguma desconfiança sobre o que seria e as pessoas não queriam trocar o que tinham por algo que desconheciam. Com o tempo, a ADSE foi-se tornando não uma questão orgânica do SNS, mas de direitos ou relações laborais entre o Estado e os seus trabalhadores. Tanto que a ADSE só muito recentemente é que passou da esfera das Finanças para a da Saúde. Na reflexão feita em 2016 sobre os caminhos da ADSE, ficou muito clara uma posição dominante, embora não unânime, que ela deve ser vista no âmbito das relações laborais entre o Estado e os seus colaboradores, portanto a ADSE não encaixa necessariamente no resto do SNS. É um segundo pagamento que as pessoas fazem, passando a ter um acesso mais rápido, mas podemos questionar se faz sentido.
Vídeo: ADSE. As contradições do sistema
Em que medida?
Numa lógica de utilização de serviços de saúde, em que as pessoas vão diretamente a um especialista quando no SNS se entende que deviam ir primeiro a um médico de família. Há algumas contradições em termos de organização.
Então a existência da ADSE já não faz sentido?
Na sua forma atual, são os beneficiários a financiar integralmente a ADSE, e eles têm de manter a liberdade de ter esses mecanismos, da mesma forma que não se vai impedir ninguém de ter um seguro de saúde privado. O que não faz sentido é que o Estado promova ativamente a ADSE como complementar ou alternativa ao SNS. A ADSE é uma espécie de mutualidade com base no rendimento para criar esse seguro entre as pessoas beneficiárias do sistema.
Mas admite que possa terminar? Que implicações teria isso para os beneficiários?
Em primeiro lugar, deixariam de ter acesso aos prestadores que têm acordo com a ADSE e teriam de encontrar uma solução para as suas necessidades, ou no SNS ou através de seguros ou pagando diretamente, dependendo do tipo de serviço. De qualquer forma teriam de ter uma resposta diferente em termos dessa procura de cuidados. Por outro lado, deixariam de descontar esses 3,5%, portanto teriam esse incremento no rendimento. A dúvida que muitas vezes surge é se o SNS pode não ter ADSE. E pode. Quem está a prestar os cuidados de saúde aos beneficiários não é o subsistema, a ADSE contrata serviços, logo a capacidade instalada está lá. Ou seja, se a ADSE desaparecer enquanto subsistema financeiro de cobertura, o SNS ou os seguros podem contratar essa capacidade para fornecer os mesmos serviços. Em termos de equilíbrio, não há um problema com isso. Haverá sempre é um período conturbado de ajuste – quem pode fazer seguros, quem vai estar só no SNS, como é que os contratos são estabelecidos e, se o SNS decidisse contratar fora algumas capacidades a que não consegue dar atualmente resposta, como é que faria. Mas isso não é dizer que não temos capacidade para prestar esses cuidados. Eles são prestados hoje, a ADSE é simplesmente um mecanismo de cobertura financeira.
O Estado tem capacidade para negociar com outros privados ou seria mais viável negociar com hospitais públicos?
Substituir os atuais operadores privados na componente de consultas provavelmente não é demasiado complicado, porque não exige um grande investimento.…Imagino que algumas pessoas preferissem o SNS, mas não era impossível [substituir os atuais grupos privados por outros]. Na parte de cirurgias, nomeadamente algumas que já são praticadas nos hospitais privados e nos grupos que agora denunciam as convenções, isso já seria mais complicado.
É uma questão de volume?
Sim, sobretudo quando falamos de questões em que fazer muito é importante para fazer bem. Em que precisam de ter economia de escala, de volume, em que o cirurgião precisa de repetir para fazer melhor – isso não é compatível com ter pequenas clínicas a fazer tratamentos diferenciados. Portanto aí poderia haver alguma dificuldade adicional da ADSE em fazer a substituição.
Há outros focos de instabilidade na Saúde. Há greves, manifestações de médicos e enfermeiros, hospitais no limite da capacidade… Porque é que o SNS está neste estado de convulsão?
Por falta de preparação. Inesperado, não é? Uma parte desta convulsão tem uma força motriz muito clara, que são as ordens profissionais, os sindicatos,… e que está ainda associada ao momento de saída da troika, com a reposição de salários, de horas de trabalho, etc., e foi-se criando uma onda de reivindicações. Era relativamente claro em 2014, quando se fechou o programa de assistência, que a reposição do que tinha sido cortado ia criar estas fricções. Portanto devia ter sido acutelado de alguma forma em que ritmo e com que grupos se avançaria primeiro, qual era o plano. E esse plano nunca foi muito claro.
O problema não foram os cortes mas a falta de planeamento nas reposições?
A falta de preparação, sim. Porque a partir do momento em que se diz que terminou o programa e os cortes, que eram temporários, vão deixar de existir, é preciso ter uma ideia de prazos, de prioridades. Dizer que vamos começar com uns sem explicar quando chegará aos outros, sem termos e sem um calendário para seguir, cria desde logo a questão: se uns estão a ter reposições, a forma de os outros também terem é contestarem, porque não está calendarizado como vai ser. Diz-se que uns já podem ter atualizações e outros não e as pessoas questionam porquê. E vai-se escalando até se tornar difícil a cada um dos lados recuar sem perder a face no processo.
Mas isso é só parte do problema, a parte dos profissionais…
Mas a greves têm que ver com isso: devia haver uma preparação muito clara, quer do Ministério da Saúde quer das Finanças, sobre as regras pelas quais seria feita a reposição.
Mas há também a parte dos conselhos de administração dos hospitais que se demitem, a falta de condições, de equipamentos, doentes a serem atendidos em contentores…
Que também se justifica por aqui, porque no tempo da troika o mais fácil de cortar era em tudo o que fosse manutenção e equipamentos. Era previsível que depois de três ou quatro anos de aperto – que até já vinha de trás –, em algum momento ia ter de se recuperar do atraso… mas foi-se adiando.…
O investimento?
O investimento e a sua calendarização. A partir do momento que se entende que é na praça pública que se consegue ter algum poder de negociação face ao governo para conseguir verba adicional, uma vez estabelecido o exemplo vão todos atrás.
E ser ano de eleições ajuda.
Ser ano de eleições ajuda, sim… Há falta de preparação para conciliar aquilo que se queria ter de consolidação orçamental com expectativas que se sabia que iriam criar tensões a breve prazo.
Há ainda a questão do financiamento público e do aumento da dívida – eram 450 milhões no fim do ano. É complicado equilibrar as necessidades da Saúde e das Finanças… Está na hora de encontrarmos novos caminhos de financiamento?
Está na hora de saber como fazer bem esse financiamento e provavelmente ter algum financiamento adicional. Desde que há dados sobre a dívida, há um misto de subfinanciamento crónico – percebe-se à partida que os orçamentos não serão suficientes para o que se pede aos hospitais em termos de movimento assistencial – com uma gestão que podia ser melhor. Onde é que está a fronteira entre o que é desperdício e o que falta para fazer bem é que não se sabe. E isso gera um problema: se eu estou numa dessas unidades e sei que não vou cumprir o orçamento, então perdido por 100, perdido por 150.
Mas há margem para isso?
Há, porque mais cedo ou mais tarde o dinheiro aparece, logo não tenho nenhuma recompensa óbvia para gerir melhor. E se eu tiver, além disso, a perceção de que tendo mais dívida recebo mais, então vou querer ter mais dívida – sempre que há anúncios de verbas extraordinárias para regularizar dívidas nos hospitais, o crescimento da dívida nesses é maior logo no mês seguinte. No ano passado criou-se um mecanismo interessante, uma Estrutura de Missão entre o Ministério da Saúde e o das Finanças.
E já se vê resultados?
Sim, e o mais interessante é a decisão de dar maior autonomia aos hospitais que têm melhor capacidade de gestão. Eu seria mais radical: naqueles casos de claro crescimento de dívida aparentemente injustificado, metia lá equipas de gestão a tentar resolver o problema.
Uma espécie de troika interna?
Isso mesmo, porque teria elementos das Finanças, da Saúde e do Tribunal de Contas, uma equipa que tivesse um efeito dissuasor também sobre alguns desses elementos. Mas inevitavelmente as Finanças terão de pôr algum dinheiro adicional na Saúde e era bom que o fizessem da forma mais útil. Habituámo-nos a que a Saúde pense que as Finanças não a entendem e as Finanças achem que a Saúde as considera um poço sem fundo. Esta Estrutura de Missão pode fazer a ponte e perceber o que pode ser melhorado. Porque na Saúde não se pode ter a lógica orçamental de parar quando se esgota o orçamento. Os hospitais não podem parar em novembro se esgotarem o dinheiro. Esta é uma aproximação curiosa e na linha do que tem sido discutido na Organização Mundial de Saúde como forma de resolver este tipo de tensões entre ministérios. Também é interessante que, em Portugal, o Ministério da Saúde seja provavelmente o mais escrutinado em termos de contas e do que se faz. Sabemos muito mais do que se faz na Saúde do que na Segurança Social, por exemplo.…
É diferente, os compromissos são distintos, com farmacêuticas, com serviços…
Mas nós não sabemos se há dívidas noutros lados – provavelmente não será tanto, já que a DGO tem os relatórios mensais e vê-se que o dominante são as dívidas dos hospitais… mas não é só falta de escrutínio, há na saúde características próprias com as quais temos de lidar com cuidado.
Portugal tem também um problema de escala...Regionalizar uma parte da saúde e iberizar outra melhoraria?
Em algumas coisas sim, mas a proximidade é muito importante. Já há uma certa europeização – a diretiva dos cuidados transfronteiriços, os centros de competências europeus que permitem que se vá a outro sítio em casos de patologias raras…, mas as pessoas também não pressionam para fazer esses movimentos. Não é muito credível que uma parte da população portuguesa de repente diga que quer ir ser tratada na Suíça ou na Bélgica ou na Holanda.
Falemos de PPP. Nesta semana, mais de uma centena de subscritores – políticos de esquerda e figuras públicas – defenderam que a gestão dos hospitais deve ser completamente pública, que são necessárias fronteiras precisas entre setores público, privado e social e que “a gestão pública é de cobertura universal”, incluindo hospitalização social, enquanto a privada faz uma “cobertura contratual”, apenas do que contrata com o Estado. São argumentos suficientes para impedir as PPP?
Não, esses argumentos até são estranhos, ou pelo menos incompletos. As PPP são hospitais do SNS, portanto para o utente é totalmente irrelevante em termos de acesso se a gestão é público-privada. Esse argumento é incompleto porque, se eu quisesse incluir esse elemento da hospitalização social na gestão de uma PPP bastava tê-lo no contrato, com o pagamento respetivo. Numa PPP eu digo que quero comprar determinados serviços e peço ao outro lado o preço para isso; ele faz as contas e fica fixado. É evidente que depois não posso alterar as regras. No setor público, se as alterar, ou não pago ou ponho verba adicional.
É a tal desresponsabilização.
Isso desresponsabiliza, sim. Se num hospital público eu tenho um orçamento para fazer um conjunto de serviços e seis meses depois tenho de fazer mais 30 coisas, esse hospital tem duas opções: ou pede mais orçamento ou cria dívida – e se fizer esta última, como é público, sabe que mais cedo ou mais tarde o Estado vai lá meter o dinheiro, por isso não se preocupa por lhe estarem a fazer pedidos adicionais. Numa PPP, se eu contratualizo um valor e de repente o Estado diz que tem de fazer mais, a PPP aceita se lhe pagar mais. É razoável, porque mesmo no público paga-se mais, simplesmente paga-se diferido ou com dívida e provavelmente com um custo superior do que se tivesse um controlo de qualidade como deve ser. É claro que um contrato tem menos flexibilidade do que um sistema público de comand and control, mas isso também ajuda a limitar algumas coisas. Se formos ver o que têm sido as PPP em Portugal, mesmo agora com a questão de Braga, percebemos que, quando foi lançada a parceria, a José de Mello Saúde praticou um preço para conquistar aquele contrato e agora concluiu que esse preço a deixou a perder algum dinheiro ou pelo menos sem lucros. Mas por eles terem essa perda ninguém se comove a dizer que têm de receber. Se fosse num hospital público, se calhar dizíamos que tinha mesmo de ser assim e dávamos a verba.…
O Hospital de Braga é considerado o melhor do país, tem uma gestão com provas de eficácia e mesmo assim decidiu-se reverter essa PPP.
Não sei se a decisão foi de reverter de vez, mas esses subscritores gostariam que assim fosse – o que, a meu ver, não faz sentido. Devíamos pensar que os nossos objetivos para o SNS são assistenciais e de saúde das pessoas e não dos instrumentos pelos quais os fazemos. Se temos um instrumento, que são as PPP, que permite nalguns casos conseguir melhores resultados do que com gestão pública, prefiro isso. Mas não quero ter parcerias em todas as situações, em todo o país, porque o Estado precisa de ter capacidade de resgatar a parceria se o quiser fazer. Agora, deitar fora um instrumento por motivos que nem são particularmente válidos não me parece muito sensato. É uma situação de: nós não gostamos da gestão privada.
É ideologia?
É ideologia, porque essas pessoas acreditam genuinamente que a gestão privada é danosa e a pública virtuosa. Aqui a questão nem é ser uma ou outra, mas o esquema de pagamentos e regras. Se eu tiver uma regra de poder gastar tudo o que quiser, que será pago, PPP ou hospital de gestão pública serão igualmente desastrosas.
Vídeo: Lei de bases da Saúde. Lógica de “limitar o que se pode fazer” é errada
Faz sentido a nova Lei de Bases da Saúde que está a ser negociada no Parlamento?
Não me parece que a atual tenha sido limitadora no que quer que seja e nesse sentido não é limitadora dos tempos, logo não veria essa necessidade. Alguma linguagem dos anos 1990 devia ser atualizada, sim, hoje temos formas de pensar e articular certos conceitos diferentes, portanto alguma atualização nesse sentido não me parece mal. Agora, espoletar uma discussão de uma Lei de Bases numa lógica de rever para limitar o que se pode fazer é que me parece errado. Porque não estamos a discutir os princípios que queremos para o SNS, estamos a querer discutir o que é a gestão do SNS em aspetos particulares de uma Lei de Bases. Na verdade, cada vez mais acho que devíamos separar a Lei de Bases que operacionaliza os princípios constitucionais que já estão estabelecidos, dando um pouco mais de corpo a isso – e parte da proposta da comissão Maria de Belém vai nesse sentido –, de outra lei que se concentrasse na gestão do SNS. Há coisas na anterior Lei de Bases que não fazem muito sentido, como dizer que o setor público tem de apoiar a iniciativa privada. O SNS deve simplesmente utilizar os instrumentos que tem.


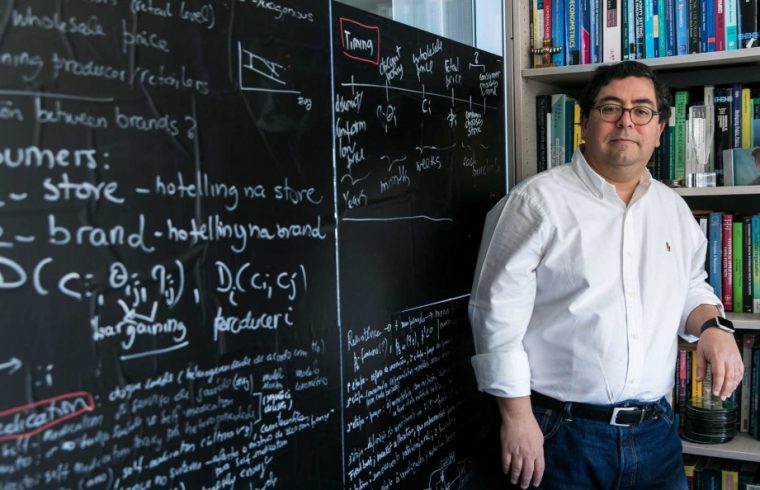











Deixe um comentário